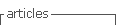Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Medievalista
On-line version ISSN 1646-740X
Med_on no.14 Lisboa Dec. 2013
VARIA
Apontamentos sobre a legitimidade atual da história medieval tecidos no entorno de uma obra recente
Eduardo Henrik Aubert*
* Faculty of Music, University of Cambridge / Laboratório de Teoria e de História da Imagem e da Música Medievais (LATHIMM-Universidade de São Paulo), São Paulo, Brasil. E-mail: eh.aubert@hotmail.com
É bastante oportuna a publicação, quatro anos após o colóquio que lhe deu origem, do livro Pourquoi étudier le Moyen Âge?,1 editado pelos organizadores do evento, Didier Méhu (Universidade Laval do Québec, Canadá), Néri de Barros Almeida (Universidade de Campinas) e Marcelo Cândido da Silva (Universidade de São Paulo). O colóquio, então intitulado “Por que estudar a Idade Média no século XXI?”, ocorreu na Universidade de São Paulo, no prédio de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, nos dias 7 a 9 de maio de 2008, sediado pelo Laboratório de Estudos Medievais (LEME), ao qual pertencem Almeida e Silva.2A publicação permite que aqueles que estiveram presentes no evento possam enfim debater (consigo próprios) as interessantes contribuições ao colóquio, uma vez que, no encontro, o público estava autorizado a ouvir as falas e presenciar os debates, mas não a participar das discussões. Possibilita também, àqueles que não estiveram em São Paulo, em maio de 2008, travar contato com as contribuições em questão, embora seja curioso que um evento realizado em São Paulo, por três medievalistas que atuam nas Américas, seja publicado primeiramente (exclusivamente também?) pelas edições da Sorbonne e em francês. A explicação talvez esteja na dificuldade de legitimação dos “estudos medievais” no Brasil, o que leva a exportar o selo (bastante literalmente) de legitimidade para a Europa, onde infelizmente a legitimidade desses “estudos” está em franca crise, como não deixam de assinalar diversos dos autores do volume.
O principal mérito da obra reside no fato de que a maior parte dos autores de fato buscou responder à questão das razões da pertinência (ou importância, ou necessidade) dos estudos desenvolvidos pelos medievalistas na sociedade atual. Isso de diferentes maneiras e adaptando a questão a suas próprias posições intelectuais: (a) a pergunta foi atacada de frente como necessidade – por que se deve estudar? – nas contribuições de Julien Demade, Joseph Morsel, Didier Méhu e Jérôme Baschet; (b) ela foi declinada no modo pragmático – como se estuda de fato? – nas contribuições de Eliana Magnani, Néri de Barros Almeida e Gadi Algazi, as duas primeiras se centrando na esfera da configuração do(s) campo(s) acadêmicos, e o último situando a pragmática do estudo em um amplo panorama de ideologia social; (c) de forma também centrada nas práticas, mas mais propositiva – como se deve, ou pode, estudar? –, no texto de Pierre Chastang, que tem um viés distintamente metodológico; (d) finalmente, de modo mais tênue, aceitando explícita ou implicitamente a legitimidade de tais estudos e preferindo se centrar em uma visão respectivamente propositiva ou desconstrutivista da dinâmica histórica medieval – o que se estuda? e, assim, até certo ponto, o que é a Idade Média? –, nos capítulos de Luiz Marques e Marcelo Cândido da Silva, este último comportando também elementos da declinação pragmática na primeira parte de seu texto.
Modalização natural do questionamento, pois a pergunta central envolve, para que possa ser bem esquadrinhada, uma compreensão do estado atual (e da dinâmica histórica em que ele se insere, daí as contribuições retrospectivas) desses estudos (problema tratado pelas contribuições listadas sob a letra b), dos métodos da investigação (problema da contribuição listada sob c) e finalmente do próprio objeto de estudo (problema das contribuições referidas sob d). Não causará surpresa, assim, que se diga que essas questões estão imbricadas umas nas outras – e que, portanto, freqüentemente, um autor tenha de lidar com uma ou mais delas nas condições de pressuposto ou conseqüência do problema fundamental de que se ocupa. Também não espantará, dada a problemática evocada, que as contribuições tenham graus distintos de acabamento; afinal, é impossível fazer abstração da causa eficiente do objeto tratado, isto é, dos medievalistas, agentes dos “estudos medievais” – que são também agentes da reflexão em questão. Joseph Morsel insiste no convite a “se interrogar sobre minha posição particular no campo acadêmico francês, bem como sobre aquela dos organizadores do presente colóquio no seio de seus respectivos campos acadêmicos.” (p. 74)
No que se segue, passaremos em revista cada uma das contribuições ao volume, com o objetivo de caracterizar sinteticamente a posição dos autores a respeito da (sua versão da) pergunta formulada no título da obra. Essa leitura buscará não apenas resumir o que foi dito, mas avaliar a pertinência das respostas, trazer para o primeiro plano decorrências para a pergunta central no caso das contribuições que preferiram modalizá-la, bem como sugerir outra possibilidade de encaminhamento do problema.
Partindo já de um reenquadramento da pergunta que dá título ao volume, Julien Demade busca refletir sobre “por que estudar a história da Idade Media no século XXI” (p. 15, grifos nossos) e se vale, inclusive no titulo do texto, da formulação “história (medieval)”, com o adjetivo posto entre parênteses. Ele se explica: a expressão é usada “quando meu propósito será válido para a história medieval na medida em que ele será válido para a história em geral.” (p. 17, nota 4) É, assim, em larga medida, a uma reflexão sobre a pertinência da história, independentemente da adjetivação, que o autor convida. Que fique claro desde já: para o autor, como para outros participantes do volume, em história, o “único assunto que faz sentido [é] a lógica de conjunto de um sistema social.” (p. 23)
Dentro desse quadro amplo, Demade explora, na primeira parte de seu texto, três possíveis argumentos que justificam o estudo da história (medieval), todos eles fortemente marcados por uma referência ao presente, seja porque se vê no presente uma justificativa suficiente para esse estudo (e declinam-se aqui três modalidades: o passado como origem, o passado como analogia e o passado como forma de profilaxia intelectual dos mitos que o presente inventa sobre o passado), seja porque se propõe que a importância reside justamente na negação do presente (trata-se da justificativa da história como um estudo da alteridade). Mas, para Demade, nenhuma dessas justificativas é suficiente para engajar o estudo da história (medieval). Para o autor, uma justificativa para esse estudo só se pode encontrar ao se ancorar a autonomia da história (medieval) relativamente ao presente: “o estudo da história (medieval)... para e por ele mesmo.” (p. 36) Se a bandeira da alteridade pode ser invocada, é necessariamente a alteridade da abordagem, e não do objeto, que “vem inteiramente da capacidade do analista de se desprendrer profundamente da ideologia que o condiciona” (p. 43). É assim que resta ao autor defender a história medieval por meio da contribuição que sua especificidade pode trazer para o campo das ciências sociais. Não se trata, pois, de defender o objeto por si só, mas “unicamente por seu valor heurístico diferencial” (p. 45). Em outros termos, estudar a Idade Média nas suas especificidades (no seu desgarramento: não afirmação, paralelo, prelúdio, crítica ou negação do presente) interessa na medida em que essas especificidades “permitem, e apenas elas o permitem, abordar problemas cruciais para as ciências sociais, problemas que nenhum dos objetos dessas ciências permitiria formular corretamente.” (p. 44)
Ligando essa proposição com um argumento exposto alhures – e retomado no volume – por Joseph Morsel,3 Demade entende que apenas a Idade Média (entendida de forma lata, entre os séculos V e XVIII) oferece a possibilidade de estudar o conjunto da dinâmica de um sistema social (voltaremos a esse ponto mais à frente, na discussão da contribuição de Morsel ao volume). A última parte do texto condensa, desse ponto de vista, um aspecto desse problema – assunto de livro cuja publicação anuncia em nota –4 que, segundo Demade, corrobora essa posição: trata-se da caracterização da sociedade da Idade Média, a partir ao menos de sua segunda metade, como uma sociedade em que tudo pode ser descrito com um valor monetário, muito embora as lógicas de auto-produção, auto-consumo e circulação não-venal permaneçam dominantes. Conclui o autor com uma provocação que, na verdade, deu o tom de sua fala no evento de 2008: mas, enfim, por que seria necessário justificar o estudo da história (medieval) do ponto de vista de sua utilidade? Contra o utilitarismo, ele propugna a possibilidade de se conceber o estudo como livre jogo das faculdades intelectuais. Embora o ponto não seja desenvolvido aqui, o autor anuncia um livro a ser lançado sobre o assunto.5
Agora, podemos nos perguntar, com relação ao argumento central avançado pelo autor neste texto, será que é legítimo fundar a legitimidade de um objeto de estudo apenas na sua singularidade radical, naquilo de específico que apenas ele e nenhum outro objeto pode trazer como contribuição à ciência social? O risco que se corre ao se querer fundar sobre esse argumento a legitimidade da história (medieval) é de elevar o individual, incomparável e, portanto, impossível de ser controlado por outros casos, ao estatuto de ciência. Se (caso se aceite que) apenas a sociedade medieval pode ser apreendida no conjunto de sua dinâmica histórica, como ela pode embasar uma contribuição para as ciências sociais como forma de inteligibilidade para “o funcionamento de uma sociedade humana” (p. 39)? Será que é por essa razão que Demade, no excursus sobre o papel da monetarização na sociedade medieval, não consegue abandonar a referência constante ao contraste com o capitalismo e chega mesmo a sugerir que (ao menos um) resultado do estudo desse fenômeno é desvelar “a função do valor monetário no sistema capitalista” (p. 51)? E é como ao mesmo tempo profilaxia intelectual (da ideologia circundante do pesquisador) e como “utilidade de natureza política” (p. 52) que o autor trata o resultado do estudo, o que chama de “dupla vantagem heurística.” (p. 52) Essa dissonância entre a proposição de justificativa e o excursus sugere que há limites muito claros, e talvez saudáveis, ao propósito de se conceber o estudo da sociedade medieval “para e por ele mesmo” (p. 36).6 Trata-se de ponto fundamental a se retomar na seqüência.
A contribuição de Joseph Morsel é uma bem-vinda reavaliação de seu livro L’histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat, publicado on-line em 2007,7à luz das reações (ou ausência das mesmas) que ele provocou. Morsel começa retomando os três aspectos essenciais de sua abordagem no livro: a necessidade (e não utilidade) do estudo da Idade Média, concebendo-se a história “como ciência social específica cujo objeto é a mudança social” (p. 66) e a Idade Média apresentando o único caso de sociedade completa (do começo ao fim) que pode ser estudado (p. 67); o modelo explicativo que propõe para a dinâmica da sociedade medieval, que teria sido marcada por um duplo processo dialético de espacialização do social e de desparentalização do social (a “marginalização relativa das relações de parentesco carnal nas relações sociais”, p. 69), que por sua vez engendrou uma valorização da meritocracia, sobretudo na órbita da Igreja, e que, segundo o autor, mostraria “a que ponto a formação do sistema social ocidental é incompreensível se não são integrados fatores especificamente medievais” (p. 69); por fim, não menos importante, a obra foi pensada para ser o mais acessível possível, de onde sua publicação na internet e um esforço para adequar a linguagem.
Em resposta às reações que teve tanto de profissionais como de amadores, que configuram discursos tensos sobre o papel e o valor da história, o historiador propõe uma justificativa para o estudo da Idade Média mais ampla do que a da singularidade de que ela alegadamente goza para as ciências sociais (o argumento da única sociedade “completa”). Trata-se de posição não conflitante com esta, mas mais ampla, que visa a uma legitimidade não no interior da história, mas na sociedade contemporânea como um todo: “o melhor meio não seria então, não articular a História a um objeto pretensamente substancial (o passado, a Idade Média), mas a uma abordagem científica?” (p. 78, grifos do autor). Nesse sentido, o que está em jogo é defender a História como ciência e a legitimidade da ciência (social): “Nós devemos trabalhar a respeito da sociedade medieval porque ela foi uma sociedade humana, porque nós devemos trabalhar a respeito de todas as sociedades humanas, porque, como sociedade humana do passado, ela permite compreender ao mesmo tempo o que é uma sociedade (um sistema social) e como uma sociedade se transforma.” (p. 92)
A questão importante que o texto levanta, assim, é mais bem compreendida pelo questionamento levantado por Julien Demade, quando ele põe em xeque a bandeira da alteridade como justificativa para o estudo da sociedade medieval: há uma infinidade de sociedades que se podem estudar, então por que a medieval? Tanto ele quanto Morsel respondem pela idéia da singularidade da “sociedade completa” (noção que o próprio Morsel apresenta com cuidado),8 mas julgo que dois questionamentos diversos são cabíveis aqui. O primeiro é factual: entendendo sociedade como “sistema social”, apesar de estarmos menos bem documentados sobre a sociedade clássica escravista, não nos parece que, diante dos testemunhos de natureza variada, sobretudo arqueológicos – com todas as dificuldades que eles levantam – essa sociedade possa ser tomada por conhecida de forma menos completa (no sentido de começo, meio e fim) do que a sociedade medieval. O problema me parece residir antes na maior disponibilidade de fontes para a Idade Média, mas, mesmo aí – e o próprio Morsel o reconhece (p. 67) – a situação é profundamente desigual no tempo e no espaço.
O outro questionamento é se, tanto ou mais do que a possibilidade de conhecimento integral (prospectiva), não se deveria colocar no centro da justificativa um argumento retrospectivo: a existência de uma vasta tradição de estudos sobre a sociedade medieval. Foi essa tradição que, ao longo das últimas três centúrias, acumulou pacientemente erudição9 e criou um campo intelectual de debate coletivo multi-geracional. A massa intelectual assim acumulada – de dados e de processamento dos dados – permite o controle minucioso, pelos pares, do conhecimento produzido, à diferença de muitas das sociedades estudadas pelos antropólogos, que são conhecidas em geral por apenas poucos estudiosos e invariavelmente têm uma tradição reflexiva específica muito menor. Seria possível, assim, afirmar, indo além da proposta esposada por esses dois autores: a sociedade medieval conta com uma tradição intelectual sólida, patrimônio inestimável porque condição sine qua non para a factibilidade do estudo sobre bases científicas (isto é, com controle coletivo dos dados, das hipóteses e dos resultados). E essa tradição é uma âncora fundamental para assegurar a própria factibilidade das ciências sociais.
O texto de Didier Méhu parte explicitamente das contribuições de Alain Guerreau10 e de Joseph Morsel11 para questionar a relação entre a prática da história medieval e a “demanda social” a que o medievalista está sujeito da parte de diferentes setores da sociedade. O primeiro passo da discussão é passar em revista três diferentes formas de justificativa para o estudo da Idade Média: a origem do moderno (como para Johannes Fried),12 a pertinência desses estudos, ou, em outros termos, sua capacidade de se adaptar à demanda social (como em Marcus G. Bull)13 e, por fim, a alteridade (como para Paul Freedman).14 A respeito desse último topos, o autor introduz uma bem-vinda diferenciação entre, de um lado, a alteridade que está na base da abordagem da antropologia histórica (à qual se associa, citando os nomes de Alain Guerreau, Anita Guerreau-Jalabert, Jérôme Baschet e Joseph Morsel, p. 99-100) e que “consiste em compreender as razões e o sentido do que nos parece irracional e estranho nesses outros que são os homens da Idade Média” (p. 100), ou ainda, uma abordagem “que pretende relacionar o pensamento da alteridade da sociedade medieval a uma reflexão sobre a transformação possível do social” (p. 102); e, de outro lado, a alteridade pós-moderna (perspectiva que rejeita), “um meio de pensar – e de justificar – as formas múltiplas de existência na sociedade americana de hoje.” (p. 101)
Mas em que medida essa perspectiva justifica ou legitima o estudo da sociedade medieval hoje? Após um intermezzo em que afirma a necessidade de um saber livre e independente (p. 102-106), Didier Méhu chega ao centro de seu texto, em que critica a noção de “demanda social”, que denota “uma situação de oferta e demanda que deveria ser completamente estranha ao seu trabalho [dos historiadores].” (p. 107) Expondo e refletindo sobre situações pessoais, notadamente a participação em uma exposição para o grande público e a demanda de uma amadora para que Méhu a ajudasse a compor o seu reino virtual (medievalesco)15 de Serenícia, Méhu entende que não cabe ao historiador simplesmente atender à “demanda social”.
Ao que nos parece, o historiador advoga antes que se use o espaço social dessa demanda para construir uma agência em que seu trabalho não é determinado pela demanda, mas age sobre ela. Isso porque há, segundo ele, “a necessidade, no seio de toda sociedade democrática, de promover atividades que questionem seus próprios paradigmas dominantes.” (p. 122) Por meio desse posicionamento, o autor reabilita uma justificativa declinada no presente para o estudo da história medieval, como uma ciência livre (de determinação pela demanda social), mas diferentemente de Demade, para quem a crítica ao presentismo se fazia com base em uma compreensão da tarefa intelectual do historiador, a reabilitação do presente por Méhu se baseia em uma compreensão da tarefa social do historiador, como parte engajada no tecido social: “como historiadores, cujo objeto é a compreensão do funcionamento e da transformação social, nós somos especificamente concernidos por uma tal articulação entre a cultura da ciência (no caso, aquela das sociedades passadas), a ultrapassagem do presente (cujo caráter contingente nós mostramos) e o pensamento do futuro.” (p. 106)
Ao mesmo tempo, fica em aberto a questão de se, nesse modelo de alteridade, na linhagem da antropologia histórica francesa, haveria ou não uma justificativa específica para o estudo da história medieval ou se, como no discurso de posse da reitora de Harvard, Drew Faust, fartamente citado no intermezzo, tratar-se-ia antes de uma ampla defesa das humanidades (ou das ciências sociais). Em prol da última interpretação (ou de um compromisso de toda forma mais geral que a especificidade do medieval), o subtítulo da última parte do texto lê “O ‘papel social’ do historiador [sem adjetivo] e a ‘demanda social’.” (p. 106)
Apesar de ter sido classificado em outra seção do livro pelos organizadores, parece-nos que o artigo de Jérôme Baschet se compreende no mesmo veio de questionamentos que os três textos acima referidos, não apenas pelas referências intelectuais partilhadas – notadamente os livros recentes de Alain Guerreau e de Joseph Morsel, já mencionados, e a concepção da história como estudo dos “modos de funcionamento e de transformação das estruturas sociais” (p. 215), mas, mais precisamente compreendida como uma “história dos modos de dominação” (p. 217) – mas pelo tratamento direto do problema da justificativa do estudo da história (medieval) na sociedade atual. É, de fato, em dois tempos que o historiador tece sua compreensão dessa justificativa: no sentido lato, para a história em geral, trata-se de defender a importância do “saber histórico” (p. 215) diante da “tirania do presente perpétuo, regime de historicidade que constitui uma das engrenagens da atual dominação social” (p. 215), perspectiva diante da qual “nenhuma realidade social, de qualquer período ou parte do mundo, poderia ser negligenciada sem afetar nossa capacidade de reflexão histórica” (p. 215); no sentido específico, para a história medieval em particular, trata-se do problema que dá título ao artigo, “a Idade Média e nós”, posição que não consiste em justificar o estudo de maneira identitária ou teleológica, mas por uma razão dupla, de “encadeamento dinâmico” (a Idade Média deslancha o ocidentalização do mundo) e de “alteridade” (só se chega a essa ocidentalização por meio de uma ruptura radical, consumada no século XIX).
Diante dessa perspectiva, que pede um reexame do problema da passagem do feudalismo (ou sistema feudo-eclesial, como prefere o autor) ao capitalismo, situando-a no século XIX e entendendo-a como produzida endogenamente – uma de cujas conseqüências mais fundamentais é a inclusão da colonização das Américas na dinâmica feudo-eclesial – Baschet propõe um complemento ao modelo de Morsel acima evocado (espacialização/desparentalização/meritocracia eclesiástica), que endossa (p. 224). Trata-se de integrar nesse modelo as diretrizes fundamentais do “sistema de representações” que acompanhou a dominação social nesse sistema (são discutidas a articulação do espiritual e do corporal, a construção da natureza e do domínio sobre ela, a historicização do tempo e o universalismo cristão). Afinal, para Baschet, a dominação “não se saberia reduzir a suas dimensões militares ou coercitivas, toda dominação que seja um pouco durável supondo igualmente a eficácia de seus mecanismos de coesão e de controle, e especialmente de seus sistemas de representação.” (p. 217) E se trata propriamente da caracterização de um sistema de representação, na medida em que o autor expõe o que compreende ser sua lógica de conjunto: a existência, em todos os elementos citados (as representações particulares), de um “rigor ambivalente” (p. 230), em que se dá espaço para o elemento dominado (o corpo positivado por meio de sua articulação com a alma, a criação por meio de sua relação com o Criador, etc.). Para Baschet, nessas representações, a valorização do elemento dominado não apenas legitima a dominação, mas também, dialeticamente, abre concretamente o caminho para a dinâmica de afirmação do elemento dominado, conduzindo a longo termo à ruptura histórica. Em outros termos, ao ponto em que esses elementos dominados se emancipam de seus correlatos dominantes, de forma a caracterizar o advento da modernidade: “pensar o corpo sem a alma, o homem sem Deus, a criação sem o Criador, a sociedade sem a Igreja.” (p. 231)
O texto de Baschet é exemplar em mais de um sentido. Em primeiro lugar, porque, na veia do que defende Joseph Morsel, não se dissocia aqui legitimidade da pesquisa dos resultados da mesma, os últimos dando fundamento aos primeiros. Em segundo lugar, porque, no contexto específico do colóquio, levanta claramente a questão da integração das Américas no sistema feudo-eclesial sem concordar gratuitamente com o topos, lembrado por outros autores (ver abaixo), de uma pretensa falta de legitimidade dos estudos medievais nas Américas como decorrência da suposta inexistência de uma “Idade Média” fora da Europa. Por fim, pela clara especificação do que entende pelo estudo da sociedade medieval – estudo dos modos de dominação social, que compreendem, de forma necessária, o estudo dos sistemas de representação que legitimam essa dominação e que podem eles mesmos ser um fator desencadeador da dinâmica histórica – o autor não permite que a referência, partilhada com os três textos precedentemente referidos, à história como “estudo de um sistema social (do ponto de vista de sua transformação)” banalize o sentido a se dar às noções de “sociedade” ou de “sistema social”: essas noções não são auto-evidentes e, sobretudo, não estimulam a priori, uma idéia de consenso. Levanta assim, a necessidade de um empenho, desde já, por parte daqueles que desejam fundar a legitimidade da história (medieval) em sua pertença ao campo das ciências sociais uma abordagem racional e clara do que entendem ser o objeto dessas ciências.
A contribuição de Néri de Barros Almeida marca explicitamente um deslocamento no centro de atenção mais imediato. Como diz a própria autora: “nossa apresentação vai na contramão dos trabalhos precedentes. Se esses se esforçaram em responder ao ‘porquê’ da produção de um conhecimento histórico relativo à Idade Média no século XXI, este texto se limita aos estudos da Idade Média no Brasil e se interessa mais pelo ‘como’, isto é, pela maneira como esse domínio do saber pode ver consolidados seus próprios meios de desenvolvimento em um país em que sua emergência ainda não está plenamente integrada ao campo da disciplina histórica.” (p. 126) Isso não significa que a autora não ataque a questão do porquê, e inclusive da definição do objeto da história medieval como disciplina acadêmica, ou, como ela prefere, da “história científica”; para ela, trata-se, em formulação não tão distante daquela dos autores que vimos até aqui, de uma “história profissional das sociedades”, em que os objetos de estudo “devem ser representativos do ‘conjunto social’ estudado, ou lhe serem associados de maneira consistente” (p. 127).
É instrumental, contudo, para o texto de Almeida, uma precisão importante: ela julga que objetos mais recentes da historiografia, como “os marginais, os excluídos, as minorias, os vencidos, os iletrados” (p. 127), não conseguiram criar uma base legítima para o estudo da “história científica”, de modo que, defende a autora, “a extensão desse ‘conjunto social’ é geralmente determinada pelos critérios tradicionais da história política” (p. 127), e são os “quadros sociais e políticos” que “imprimem sua especificidade à história científica,” a história sendo disciplina que realiza uma “abordagem dinâmica do tempo e dos conjuntos sociopolíticos.” (p. 127)
A essa definição, segue-se a prometida narrativa a respeito da história medieval no Brasil. Para Almeida, a existência de uma história medieval realizada de forma conseqüente e sistemática é recente no Brasil (anos 1980 segundo afirmação à p. 128, depois de 1995, segundo afirmação à p. 129) e é fruto do incentivo do Estado (financeiro e de organização institucional), um dos aspectos mais relevantes sendo a formação de grupos de estudo em torno dos quais se desenvolveria o trabalho sistemático de pesquisa graças a esse incentivo. Reza a autora: “os estudos medievais no Brasil não se desenvolveram em função das demandas inerentes à disciplina histórica, mas antes em razão do aumento do incentivo à pesquisa e da organização de meios de estudo em geral encorajados pelo Estado.” (p. 132) Segundo essa narrativa, a história pregressa da história medieval no Brasil, que Almeida restringe à formação da universidade (isto é, entre 1934 e 1980 ou 1995, dependendo da data que se deseje adotar), seria uma história bastante frágil, com docentes não especializados e com ausência de investimento institucional por parte dos docentes, que “não estavam engajados em um projeto de valorização e de estruturação dos domínios do conhecimento histórico.” (p. 133) Mas Almeida vê um lado positivo nisso, na medida em que, devido à fragilidade, haveria um legado de liberdade, como decorrência da ausência do que chama de “gênio fundador” (p. 133) e da ausência de uma única referência teórico-metodológica, no lugar da qual haveria uma “pluralidade de influências” (p. 135 – embora, logo antes, à p. 134, a autora identifique, via um artigo citado em nota,16 que os estudos então desenvolvidos se organizavam em torno do conceito de “civilização”).
Diante da ausência precedente de delimitação temática, de uma abordagem documental e de um quadro teórico-metodológico dominantes, segundo Almeida, os anos 1980 representam uma nova etapa, com a penetração da Nova História, que se tornaria, no Brasil, ela advoga, “a matriz dos estudos relativos ao período” (p. 136), sobretudo em razão da facilidade que esse referencial apresentaria para lidar com a escassez documental e de formação específica no Brasil. Porém, segundo a autora, esse capítulo da história medieval no Brasil acabaria por se tornar muito prejudicial na medida em que, diante da crise da Nova História que se configurou pouco depois, haver-se-ia criado um vácuo intelectual, com falta de referências alternativas e uma grande dificuldade de diálogo com as problemáticas desenvolvidas nas outras áreas das ciências sociais. Sua crítica é dura: “no Brasil... a falta de acesso a uma documentação histórica variada e a vontade de identificação rápida com as novas correntes historiográficas acarretaram a mobilização de quadros analíticos incompletos e uma crescente incerteza (flou) dos resultados.” (p. 139) São especialmente atacados os estudos centrados na problemática do “popular”. Pior ainda, estaria em questão aqui o próprio estatuto científico da história, que, como vimos, é defendido pela autora: “A Idade Média fantasiosa e comercial se tornou uma corrente dos estudos medievais no campo universitário, ao passo que ela [essa Idade Média] deveria ter sido o alvo de suas críticas.” (p. 141)
Diante dessa narrativa da história da história medieval no Brasil, a autora conclui enunciando o que vê como possibilidades para o desenvolvimento do campo em terras brasileiras, defendendo que ele se centre em torno de uma “identidade” (p. 142), dada pela referência à história político-social, e propondo que, diante das dificuldades que crê inerentes à posição de um medievalista no Brasil, os medievalistas se contentem com a crítica do método e da historiografia e se dediquem à “elaboração de sínteses estabelecidas em níveis de erudição e de preparação razoáveis.” (p. 142)
Se se pode saudar o que deve ter sido um profundo exercício de autocrítica por parte da autora, que, na década de 1990, escreveu uma tese perfeitamente alinhada às problemáticas da Nova História que hoje critica (recorrendo precisamente às noções de cultura popular, cultura folclórica, etc.),17o texto causa surpresa. Em primeiro lugar, pela quantidade flagrante de equívocos cometidos, dos mais simples (Andréia [e não Andréa] Lopes Frazão da Silva não é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 131, n. 5) aos mais graves (Pedro Moacyr Campos não era “especialista em letras germânicas” (p. 133), mas graduado em História e Geografia e em Direito – dado retomado a texto de Marcelo Cândido da Silva altamente criticável18 – equívoco que desempenha papel fundamental na narrativa da autora para caracterizar a história medieval nos primeiros 50 anos da universidade no Brasil e que se acresce da avaliação, igualmente desinformada pelo mesmo texto de Silva, de que esses docentes não estavam engajados na estruturação institucional dos estudos históricos, contra o quê testemunha toda a carreira administrativa de Eurípides Simões de Paula19), passando por julgamentos de valor não justificados (como dizer que os grandes representantes da historiografia brasileira são Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, a exclusão das dezenas de outros nomes que poderiam ser evocados não causando aparentemente qualquer remorso, p. 139) e por argumentos falaciosos (como dizer que os estudos sobre as relações entre “cultura popular” e “cultura erudita” deixavam de lado que as manifestações da “cultura popular” “apareceram na documentação nos momentos precisos em que o poder, laico ou eclesiástico, buscava se reorganizar, como foi o caso ao longo de todo o processo de reforma pontifical (séculos XI-XII)” (p. 139), obliterando completamente a noção, capital para tais estudos, de Reação Folclórica – reação justamente ao processo que se costuma chamar de “reforma gregoriana”, ou “reforma da Igreja”).
A economia desses equívocos é eloqüente: ela permite deixar de lado toda uma história pregressa, desprezar toda uma tradição acadêmica, para justificar uma abordagem particular pelo método da terra arrasada.20 Ora, se a avaliação da primeira geração universitária, já evocada, faz-se pela leitura enviesada da atuação de Pedro Moacyr Campos e Eurípides Simões de Paula, a avaliação da geração dos anos 1980, associada à Nova História, faz-se com um ensurdecedor silêncio de referências. A autora pinta um quadro com cores carregadas, mas não menciona sequer um medievalista brasileiro que poderia ser personagem de fato dessa paisagem. Não creio que seja tanto para não falar de sua tese, alinhada com essa corrente, mas para não tratar de seu orientador, Hilário Franco Júnior, discípulo de Jacques Le Goff e expoente brasileiro da Nova História, nome que curiosamente a autora conseguiu não citar nem uma vez no memorial recentemente redigido para o concurso público de professor livre-docente que prestou na Universidade Estadual de Campinas. Uma menção crítica feita de passagem ao “interesse por aquilo que é comum” (p. 140) evoca necessariamente, nesse contexto, embora sempre com o silêncio das referências, a problemática da “cultura intermediária”, elaborada por Franco Júnior, e permite entrever a ancoragem concreta do discurso aguerrido da autora.21 Ora, nada de menos científico do que construir um discurso eloqüente e arrasador sem se confrontar com os pretendidos objetos de análise. Na ausência de qualquer referendação concreta, fica impossível aceitar esse discurso, que se impõe mais como um manifesto político e pessoal do que como trabalho de “história científica.”22
Se a terra arrasada busca justificar um determinado projeto para a história medieval no Brasil, cabe dizer que a proposta de que a medievalística brasileira deveria enveredar por uma história político-social mereceria também um desenvolvimento, o que não acontece. Tratar-se-ia apenas de seguir uma moda (“o Brasil deve entrar no debate metodológico e conceitual de uma história que tende cada vez mais a se definir como uma história política e social”, p. 142)? Não se estaria, aqui sim, apenas servindo de âncora subserviente a uma das diretrizes historiográficas desenvolvidas na Europa? Isso porque, diga-se de passagem, a avaliação que autora faz de uma pretensa “importação” da Nova História no Brasil mereceria ser infinitamente matizada, pois a Nova História se adaptou no Brasil a problemas e desafios intelectuais endógenos, bastante bem esquadrinhados. Mais ainda, o que exatamente a autora entende por “política”? A exclusão de objetos como os excluídos, as minorias, os vencidos, etc. (p. 127) leva a crer que não se trata de um referencial dialético, com a decorrente exclusão, sem justificativa outra que uma pretensa inabilidade de se constituir em “quadros de análise decisivos” (p. 127), de todos os referenciais de um espectro que vai de Marx a Foucault, com tudo o que está no meio. Agora, como uma história não dialética, que prescinde do popular, dos vencidos... (outros nomes para os dominados), e que, portanto, só se ocupa das elites, pode se pretender “não ser confundida com uma história elitista” (isto é, aquela que limita o móvel da dinâmica histórica à ação das elites) desafia o bom-senso. O texto de Néri de Barros Almeida constitui, assim, um mau exemplo de discurso enviesado e não-científico sobre a história. Sua publicação fora do Brasil, em que os medievalistas detêm poucos meios de controle para avaliar suas proposições, constitui flagrante perigo de desinformação da comunidade acadêmica a respeito da medievalística brasileira.
Nada mais distante desse tipo de mistificação do que o estudo bem delimitado e fartamente documentado assinado por Eliana Magnani. A autora fez um exame sistemático da revista francesa L’Homme, entre 1961 e 2007, para entender como a Idade Média foi apropriada pelos antropólogos e, mais amplamente, por meio de algumas sondagens comparativas, compreender como se deu o diálogo entre história e antropologia em alguns meios estruturalistas franceses. Trata-se de tarefa que tem por base uma compreensão nítida do que é (ou deveria ser) a história: “o objetivo não é tampouco de realizar uma crítica das práticas dessa disciplina irmã da história, mas de reconhecer as dívidas e as inclinações respectivas, e os contextos nos quais se elaboram os conceitos e os modelos de análise no domínio das ciências das sociedades.” (p. 145) Para a autora, história e antropologia partilham o mesmo objeto, “sociedades” (p. 146), e é assim que ela defende uma “ciência social unificada” (p. 146). Esse discurso está alinhado com um dos eixos de defesa do estudo da história medieval já encontrado acima, o de sua importância referida à importância mais ampla das ciências sociais. Assim, embora se dedique muito concretamente à questão do como se estuda(ou) a sociedade medieval, a autora a articula à problemática geral do colóquio.
Magnani persegue seu exame da “Idade Média dos antropólogos”, na revista L’homme, em dois eixos: o primeiro é o da ausência ou presença da Idade Média nos estudos antropológicos, em que constata que, na hierarquia da consideração do passado pelos antropólogos, o período clássico é muito mais importante que o medieval (p. 148) e que os antropólogos chegam a criticar explicitamente o “caráter de falta de acabamento interpretativo, teórico e conceitual de certos trabalhos” (p. 152), o que resulta – como comprova a autora com uma sondagem comparativa de referências a antropólogos na revista Annales entre 1961 e 1999 – que o “sentido da influência: [é] da antropologia à história, e não o inverso” (p. 153); o segundo eixo trata do “uso ‘etnográfico’ da historiografia da Idade Média e os conceitos forjados a partir de sua observação” (p. 140), em que distingue o uso de fontes medievais, notadamente de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, preferência que se explica pela formação de base em filosofia de alguns dos antropólogos em questão (Claude Lévi-Strauss, Maurice Godelier, Philippe Descola), do uso de historiografia, de que toma como exemplo um artigo de Godelier, datado de 1965, em que o antropólogo se vale da Idade Média, e, sobretudo, de um livro de Georges Duby, como espécie de reservatório de informação etnográfica, e em que o sistema feudal assume as feições de “outro” da ciência econômica moderna. Magnani levanta aqui uma questão capital, que encaminha, por sua vez, uma segunda justificativa pela necessidade do estudo da Idade Média, esta específica ao período: “isso [tratar o sistema feudal como outro da ciência econômica] levanta a questão mais geral da reflexão acerca da Idade Média e de sua modelização entre os séculos XVIII e XIX como fundamento de diversos conceitos ainda hoje correntes na antropologia e, de forma mais geral, nas ciências sociais, de cuja restituição histórica não se pode prescindir.” (p. 157). Em outros termos, como certas interpretações da Idade Média determinaram a elaboração de conceitos-chave para as ciências sociais, é recorrendo à Idade Média que se pode “levantar esse véu [colocado] sobre os próprios fundamentos das ciências das sociedades.” (p. 158)
Trata-se de argumento adicional para colocar no centro da justificativa para o estudo da história medieval no século XXI a própria existência de uma tradição de estudo. Não apenas, como já assinalamos, essa tradição configura uma possibilidade concreta de controle efetivo da produção científica em ciências sociais devido à imensa massa crítica acumulada a respeito dessa sociedade, mas também porque tal tradição foi determinante na configuração dos próprios conceitos das ciências sociais, de modo que praticar as ciências sociais sem se referir à historiografia da Idade Média – e fazer sua leitura crítica – é se condenar a manipular instrumentos opacos e talvez inapropriados para a inteligibilidade de qualquer sociedade.
Gadi Algazi contribui com um dos trabalhos mais peculiares do livro, na medida em que não trata diretamente, ou exclusivamente, da Idade Média, mas dos mecanismos e das razões pelas quais as sociedades produzem “idades médias”, como um fenômeno do tratamento diferenciado que o presente dispensa a segmentos do seu passado. Para o autor, uma sociedade seleciona, em meio ao contínuo histórico, “fragmentos eficazes” que devem “fazer autoridade e ser pertinentes” (p. 162). Um “fragmento eficaz” deve “possuir características contraditórias: ele deve ser ao mesmo tempo distante e próximo, convenientemente antigo e razoavelmente recente.” (p. 162) É para atender à demanda (presente) por tais fragmentos eficazes que se produzem as idades médias – e, como variante dessas, a Idade Média. Há, segundo Algazi, duas formas de construção de fragmentos eficazes: pela segmentação do passado (de onde nascem as “idades médias”), e pela segmentação do mundo social (de modo a se fazer ver um segmento social atual como ao mesmo passado e presente, as chamadas “relíquias vivas”, ou “segmentos do passado que existem no presente”, p. 165).
Algazi distingue os passados clássicos, que são veneráveis e cuja função social se resume habitualmente a servir como base da autoridade cultural das elites (como “passado que passou”, passé révolu), das idades médias, à espreita para serem negadas ou desejadas a todo momento, e portanto com forte presença social (como passados presentes, passés présents), o que talvez ajude a entender os virulentos debates acerca da Idade Média no século XIX, argumenta. No que tange ao problema das relíquias vivas, Algazi destaca o papel do camponês na literatura historiográfica do século XIX, e especialmente na obra de Wilhelm Riehl, de modo que “a realidade social era dividida para fazer dos camponeses arquivos vivos do passado.” (p. 168) Trata-se, em ambos os casos, de discurso ideológico de distinção e de dominação social, de uma “estratégia social pela qual as elites em geral e os intelectuais em particular podem se posicionar face às condições que regem sua própria sociedade, aquelas que eles buscam repudiar, afastar, reformar ou regenerar” (p. 176) Em suma, para retomar o subtítulo do livro, trata-se de conflito nos “usos sociais do passado” (cf, também p. 177), de representações que “demonstram como certos grupos buscam produzir o passado dos outros, negando-lhes freqüentemente uma historicidade e a relação social que consiste precisamente na construção de seu passado.” (p. 177)
Pelo seu propósito de tratar a Idade Média (historiográfica) como uma das concretizações do problema mais amplo das idades médias como forma de apropriação do passado, Algazi não ataca diretamente o problema das justificativas para a legitimidade do estudo da Idade Média. Mas ele levanta questões de monta para esse problema em, ao menos, dois fronts diversos. O primeiro é dado pela generalidade do seu propósito, que faz pensar que o problema da Idade Média, como outros autores já sublinharam, deve ser integrado em uma problemática mais genérica das ciências sociais, não delimitada pela especificidade irredutível do medieval. Nesses quadros, emerge ao mesmo tempo uma compreensão do mundo social centrada no problema da dominação social e em que os sistemas de representação constituem uma engrenagem eficiente dessa dominação. Encontramo-nos aqui com a perspectiva defendida por Baschet no artigo discutido acima.
O outro front em que o texto de Algazi suscita uma reflexão a respeito da problemática do colóquio é potencialmente mais candente, e talvez derive daí sua opção por um texto que não busca diretamente defender a legitimidade do estudo da história medieval. Seria porque um discurso de legitimação que insista na especificidade do medieval poderia se aproximar perigosamente de um discurso autoritário que segmenta o contínuo do passado e se presta a perigosas derivas ideológicas no seio de uma estrutura de dominação? Talvez por isso Algazi diga que “a questão de saber como O passado ou períodos históricos em sua totalidade se tornam pertinentes pode ser momentaneamente deixada de lado” (p. 176-177, grifos do autor), julgando preferível “estudar as relações particulares entre os grupos sociais que projetam um sobre o outro segmentos do passado ou que tentam se desvencilhar das imagens que lhe são impostas desse modo.” (p. 177) Será que a questão da defesa do estudo de totalidades históricas estaria fadada a instrumentalizar a dominação social presente? Qual a alternativa? Uma história centrada sempre nas “relações particulares” que não se comprometa com generalizar o problema da estrutura da dominação? Nesse sentido, Algazi parece nitidamente se afastar da proposta de Baschet.
O artigo devido a Pierre Chastang talvez seja o mais específico da coletânea, dedicado ao problema da edição de documentos medievais hoje e às possibilidades oferecidas ao trabalho do historiador pela relação construtiva entre o texto medieval e o hipertexto numérico. Trata-se de “ver em que medida o hipertexto numérico instaura um diálogo renovado entre o presente e o período medieval, caracterizado por uma cultura do manuscrito.” (p. 237) O próprio autor reconhece que apenas aborda o problema do colóquio “de uma maneira indireta” (p. 233), mas devemos nos guardar contra o risco de dispensar, sem maior preocupação, a contribuição desse texto para o debate, uma vez que ele se liga nitidamente às questões suscitadas pelas contribuições anteriores, e isso não tanto pela referência comum, notadamente ao trabalho de Joseph Morsel, mas, sobretudo, pela preocupação em inserir o conhecimento produzido pelo historiador medievalista em “um modelo abrangente de inteligibilidade do social” (p. 233).
O texto parte, servindo-se do trabalho clássico de Bernard Cerquiglini,23de uma crítica da filologia tradicional (que tem por base a noção dos textos como sendo artefatos desmaterializados, conformes e reprodutíveis) e do apontamento das potencialidades da informática para a restituição da dimensão visual e espacial da escrita. Para Chastang, essa restituição “permite romper com a crença em uma inerência do sentido” (p. 243). Segue-se uma avaliação das características essenciais do hipertexto (leitura descontínua, descontextualização, aspecto visual), que, no conjunto, permitem “abordar de modo diferente o texto medieval, agindo contra a desmaterialização e o fechamento do texto.” (p. 245). O exemplo da obra recente de Didier Lett é resumido24 e, a partir daí, Chastang propõe que o hipertexto permite considerar o documento no processo histórico de sua constituição mesma, “sua metamorfose [do documento] em série de índices do conhecimento histórico do passado.” (p. 246) É assim que, na última parte do texto, em que expõe o projeto de edição de um cartulário da abadia de Montecassino, em que está envolvido, Chastang avança a noção central de meta-fonte (métasource), segundo a qual o trabalho de edição “deve ser pensado como a constituição de uma meta-fonte, pela qual o documento é ao mesmo tempo tornado visível em sua positividade documental e metamorfoseado em fonte para o trabalho histórico.” (p. 250) No caso específico, trata-se de restituir “o trabalho complexo de um scriptorium monástico.” (p. 251)
Diante do propósito de se comprometer com um “modelo abrangente de inteligibilidade do social” (p. 235), como se compreendem modalidades de edição como essas? Nos dois casos evocados mais substancialmente (o livro de Didier Lett e a edição em curso do cartulário de Montecassino), trata-se, e isso não é sem importância, de observação do social feita à lupa, na menor escala possível de restituição do encadeamento concreto de ações (escriturais). Isso porque, se a informática permite, “pela automatização dos procedimentos, tratar grandes volumes de textos e explorá-los de maneira intensiva” (p. 235), o tipo de uso do hipertexto proposto por Chastang é uma exploração hiper-intensiva de um conjunto circunscrito de textos, concretamente articulados por processos históricos específicos. Trata-se, assim, de um modelo de tratamento do social que se poderia definir como microssociológico, ainda que o termo não implique – e não possa implicar – qualquer avaliação a respeito do problema da abrangência de inteligibilidade do social facultada por esse tipo de procedimento (abrangência que pode, aliás, ser compreendida tanto como abrangência do objeto, isto é, o conjunto da sociedade, quanto da abordagem, isto é, a capacidade desse procedimento de lidar com um elevado número de casos).
Ao mesmo tempo, se o modelo microssociológico desloca – ao menos em um primeiro nível – a compreensão do social para a práxis efetiva, colocando em parênteses o problema mais abstrato da estrutura, isso não parece descolado do problema da legitimidade da história medieval. Afinal, centrando toda sua contribuição nos procedimentos efetivos de realização do trabalho do medievalista, Chastang não está sugerindo que a legitimidade do trabalho não é dada de antemão, mas se constrói e se sustenta na prática desse trabalho? É para isso que ele acena na conclusão do artigo: “A partir daí, formas de trabalho coletivas em rede e de colaboração com medievalistas não-profissionais são possíveis. Elas representam uma maneira renovada de responder a uma demanda social, sem se conformar à divisão entre produtores e consumidores que constitui o fundamento das formas tradicionais de vulgarização do saber.” (p. 251)
Não há dúvida de que a contribuição de Luiz Marques constitui o principal acorde dissonante da obra, mas não apenas por se tratar de um historiador da arte, enquanto todos os outros autores são historiadores stricto sensu, ou pelo pesquisador não se dedicar ao estudo da Idade Média – no colóquio, um antiquista, Norberto Luiz Guarinello, da Universidade de São Paulo, também havia contribuído, embora sua contribuição não tenha sido retida, segundo os organizadores porque, junto com a de Milene Chavez Goffar Majzoub, “elas se integravam mal no questionamento submetido aos participantes” (p. 7). Trata-se de acorde dissonante, sobretudo, pelo encaminhamento que dá ao questionamento coletivo. Quem assistiu ao colóquio de São Paulo dificilmente se esquecerá do vivo debate travado entre Marques e outros expositores após a fala do historiador da arte. Entendendo que o sentido atual da Idade Média é propedêutico, centrado no ensino na escola e na universidade, e propondo que “não há debate possível com aqueles que julgam necessário fazer desaparecer de nosso horizonte de reflexão seções inteiras do passado das sociedades, quaisquer que sejam” (p. 179), o autor parte para uma discussão do objeto daqueles que estudam a Idade Média, campo em que, indica, não há consenso, algo que não julga grave, no entanto (p. 179).
Essa discussão está centrada em uma hipótese, enunciada claramente e defendida na seqüência: “se nos situarmos no nível das categorias mentais que desenham o horizonte de pensamento do Ocidente medieval, parece que este [horizonte] encontra suas coordenadas fundamentais nas mudanças intelectuais, religiosas e antropológicas que ocorreram grosso modo entre os anos 130 e 300.” (p. 180) Haveria, assim, entre a Antiguidade e a Idade Média, uma “transição sem ruptura” (p. 180) e uma “permanência do mundo antigo para além das invasões germânicas e da expansão do Islã” (p. 184). A “matéria de que a experiência histórica é feita” (p. 184) seria o continuum, o que desacreditaria a tentativa “de nela estabelecer descontinuidades” (p. 184). Evocando Aby Warburg e Ernst Robert Curtius, propõe que se saia do que julga um dilema entre continuidade e ruptura, em prol da noção de “tradição clássica”, defendendo, assim, que a definição da própria Idade Média deva se fundar na memória que essa época tem da Antiguidade.
A noção de “tradição clássica” vem definida como “um processo de longa duração pelo qual as sociedades saídas da reorganização do mundo romano constituem sua própria memória (em que é preciso contar as sensibilidades e os automatismos) em um triplo movimento de cristalização, de transmissão e de transformação dos modelos, das estruturas mentais determinantes (portantes), das formas, das tópicas, das concepções e dos ritos que regem as relações com o ser e o sagrado na Antiguidade.” (p. 185) A defesa da hipótese se estende pela identificação de quatro elementos da referida síntese dos anos 130-300: passagem da cremação à inumação, formulação do princípio plotiniano do Um, criação de uma clivagem entre o interior e o exterior, alteração do sentido da noção de infinito. A Idade Média seria assim período definido em função de sua “matriz cultural” (p. 195), forjada nos anos 130-300, e, como tal, “um período que pertence plenamente a essa tradição clássica.” (p. 195)
Entende-se, claro, que esse engolfamento da Idade Média na Antiguidade preocupe os medievalistas, tanto devido ao problema já levantado por Magnani e Algazi (cf. supra) a respeito da concorrência entre o clássico e o medieval nos discursos sobre o passado e suas implicações ideológicas complexas, quanto, mais imediatamente, por aquilo que essa definição implica para um grupo razoavelmente coeso de estudiosos que se perguntam não apenas a respeito da legitimidade da história, mas mais especificamente da história medieval. Parece-nos, no entanto, que a dissonância do artigo no seio deste volume deita raízes mais fundas. O cerne do problema parece residir no fato de que o social aqui vem entendido como uma categoria dentre várias que comporiam o todo da experiência humana, de modo a ser tratado como uma entre várias “perspectivas”: “econômica, social, intelectual, religiosa, artística, etc.” (p. 184) Isso ao mesmo tempo em que a noção de “mental”, “coordenadas mentais”, ou “estruturas mentais”, ganha relevo. Postas no centro do artigo, tais “coordenadas” seriam capazes de definir toda uma experiência histórica. Mais além, sendo nomeadas como “estruturas mentais determinantes (portantes)” (p. 185), essas coordenadas esquadrinham uma compreensão da realidade profundamente idealista. Dissonância, assim, com o corpo central dos artigos do volume, que se apropriam dos estudos voluntariamente dialéticos de Guerreau e de Morsel na sua compreensão das relações entre o material e o ideal, aspecto que, como vimos, está no centro da exposição de Baschet, que busca entender os “sistemas de representação” como parte integrante (e não “portante”) dos mecanismos de dominação na sociedade medieval.
A opção pelo idealismo acarreta toda uma compreensão do que é e do que não é legítimo na prática do historiador, de onde surge a forte crítica ao que entende como “flagrante delito de anacronismo” (p. 183) caso se opte por falar da “originalidade” da Idade Média. Isso pela simples razão de que se trata de “um período histórico que permanece perfeitamente alheio ao sentido que nós conferimos a esse termo” (p. 182). Marques sugere, assim, que, para produzir seu próprio relato do passado, o papel do analista moderno deve ser engolfado nas categorias desse passado, as únicas plenamente legítimas para dele dar conta. É assim que, para Marques, “seria condená-la [a Cristandade medieval] à ininteligibilidade [a ação de] negar-lhe o direito de se definir a partir de sua própria memória” (p. 195). Estaríamos então reduzidos a acreditar que a (auto-)consciência dos sujeitos é o crivo determinante do processo histórico.
Esses problemas conduzem, enfim, à questão da legitimidade da história medieval. Marques afirma que não há debate, mas só combate, a respeito da importância do estudo da história medieval (como de qualquer outra seção do passado), ao mesmo tempo em que afirma que não há consenso em torno do objeto da história medieval, e que não há nada de errado com isso – inclusive, os estudos históricos “podem também prescindir de definições.” (p. 179) Muitos dos autores do livro certamente afirmariam o inverso.
Essa dupla proposição está diretamente relacionada com a idéia de que o estudo da história medieval encontra seu propósito como uma forma de educação: “a história medieval permanece uma cidadã de pleno direito em toda educação que se pretenda como tal” (p. 179), de onde se depreende que a história participa, no pensamento de Luiz Marques, de uma forma de humanismo – no sentido primeiro de emprego desse termo, usado em alemão, Humanismus, desde o começo do século XIX, para nomear o currículo clássico das escolas.25 Forma de elevação cultural própria a um outro momento de interpretação do “clássico”, essa noção de humanismo, que nos parece uma presença tácita basilar no texto de Marques, fundamenta igualmente a compreensão da história como disciplina humanista, ou como parte das humanidades. Não como ciência social. De onde a dissonância central desse texto no seio de um volume em que as demais contribuições insistem no adossamento da história (medieval) às ciências sociais. Daí que Luiz Marques não se importe com a existência de uma falta de consenso a respeito do que se entende por história medieval, pois não se trata tanto de trazer inteligibilidade (controlada e auferida pelos pares) para um ser-aí (o próprio da ciência [social]), mas de ajudar a formar o (arriscaríamos: espírito do) homem por meio de um ser-para-si (o próprio das humanidades).
Sob dois aspectos, a contribuição de Marcelo Cândido da Silva merece ser compreendida em relação com a de Luiz Marques, ainda que as diferenças não sejam em nada desprezíveis. Por um lado, trata-se da idéia de que o estudo da história medieval prescinde de qualquer necessidade de legitimidade específica: dramatizando a questão com relação a um recorte cronológico (a alta Idade Média) e a um espaço acadêmico (o Brasil), em que a legitimidade certamente apareceria ainda mais questionável aos olhos dos críticos, Silva responde à questão do seu título, “Por que estudar a alta Idade Média no século XXI, no Brasil?” (grifos nossos), ao fim do artigo, rebatendo: “Por que não estudar a Idade Média no Brasil, no século XXI?” (p. 214, grifos nossos). Por outro lado, a proximidade entre as contribuições decorre do fato de que Silva, como Luiz Marques, investe consistentemente na exploração do próprio objeto de estudo por meio, neste caso, da discussão de determinados aspectos que constituiriam “especificidades da alta Idade Média.”
Isso posto, o desenvolvimento do artigo é bastante autônomo e não envereda por nada semelhante à compreensão que Marques tem da Idade Média. Silva lida com a especificação do problema para a alta Idade Média e para o Brasil porque se trata de sua experiência profissional particular. Compreensivelmente, assim, a respeito da questão-título da contribuição, ele diz: “eu não tenho a pretensão de lhe dar uma resposta definitiva. Meu objetivo é antes o de trazer algumas reflexões a partir de minha experiência pessoal, de alguém que estuda e ensina a alta Idade Média européia a partir de um espaço geográfico e institucional não europeu.” (p. 197) Em uma veia de ego-história, Silva conta ao leitor como passou de uma percepção de que o estudo do medieval fazia sentido na medida em que se compreendia como origem do moderno, em seu mestrado, para uma postura crítica com relação a esse ponto de vista (p. 197-198). Abrindo a lente para caracterizar o que lhe aparece não apenas como uma experiência pessoal, mas como índice de um problema historiográfico, Silva passa a uma avaliação do que se configura, em sua narrativa, como o topos historiográfico das “origens medievais do Brasil”, destacando a obra do mexicano Luis Weckmann26 e criticando o seu aspecto de “mobilização identitária” (p. 200): “colocando a ênfase nas origens medievais da sociedade mexicana ou brasileira, os medievalistas podem melhor justificar a utilidade de seu trabalho, não apenas diante de seus compatriotas, mas diante de seus colegas europeus.” (p. 200)
As motivações que o teriam levado à crítica dessa perspectiva seriam de dois tipos: de um lado, a consciência do uso político que foi e continua sendo feita dos discursos identitários de continuidade entre a Idade Média e a atualidade, com destaque para a noção de Germânia; de outro lado, o que chama de “especificidades da alta Idade Média” (p. 203), a respeito do quê, propondo uma leitura crítica das sínteses interpretativas de Morsel e Baschet,27 propõe: “eu creio que é importante enunciar a questão das relações entre a alta e a baixa Idade Média colocando a ênfase na alteridade e na ruptura. Eis o maior desafio dos estudos sobre esse período: concentrar-se nos elementos constitutivos e originais dos séculos V a XI, sem esquecer, no entanto, a dinâmica desse período.” (p. 203)
É nesse ponto que Silva vai centrar a parte mais substancial de seu texto. Após uma breve retomada do histórico da compreensão dessa especificidade, com uma referência à definição da noção de Antigüidade Tardia e apresentações de algumas obras recentes, como as de Jean-Pierre Devroey e de Chris Wickham e o projeto coletivo Transformation of the Roman World, o autor se propõe a lidar com essa especificidade por meio de um “topos historiográfico específico: aquele das articulações estreitas entre os domínios que, segundo nossas divisões do campo social, referem-se ao ‘privado’ e ao ‘público.’” (p. 205) Ele critica, assim, o trabalho de Michel Rouche na obra coletiva História da vida privada,28 para quem “a privatização da vida social e política marcaria a alta Idade Média em oposição à Antiguidade romana” (p. 205-206), trabalho que desempenharia, segundo Silva, um papel importante na formação dos estudantes brasileiros. Propõe, em contraposição, que “a especificidade da alta Idade Média repousa na dificuldade de distinguir o ‘público’ do que se chama erroneamente de a ‘esfera privada.” (p. 206) E persegue a questão com referência a duas práticas no mundo franco, entre os séculos V e IX: as práticas judiciárias de resolução de conflitos e as práticas penitenciais, estas últimas interpretadas à luz do trabalho de Mayke de Jong.29 A partir dessa apresentação, Silva reafirma a idéia da especificidade da alta Idade Média, concluindo que “estudar a história da alta Idade Média é, sobretudo, ser confrontado com sociedades radicalmente diferentes das nossas, e cujo conhecimento não é um exercício de reconhecimento identitário.” (p. 213)
Para um texto que já foi publicado, em versões muito próximas, em um periódico argentino e em outro brasileiro (como o próprio autor indica na última nota do texto, p. 214, nota 48), ambos em 2010,30 surpreende que Silva não tenha sido mais cuidadoso na revisão de seu trabalho. Um exemplo aparentemente banal, mas revelador, encontra-se à p. 199, quando o autor diz, no corpo do texto, que as capitanias hereditárias teriam estado “em vigor entre os anos de 1530 e 1549” (p. 199), informação logo confundida em nota de rodapé: “criadas pelo rei João III entre 1534 e 1536, as capitanias hereditárias...” (p. 199, nota 7). Se de fato doze capitanias foram criadas pelo rei João III entre 1534 e 1536 (e não em 1530, como dito no corpo do texto), o sistema só foi extinto em 1759, em meio às reformas pombalinas, a data de 1549 sendo a data de estabelecimento do governo-geral, que não suprimiu as capitanias. Casos comparáveis já foram apontados alhures relativamente a outros trabalhos de Silva.31 Ao mesmo tempo, chamamos esse erro de banal porque, sendo assunto amplamente conhecido no Brasil, matéria de aprendizado no ensino fundamental, o risco de que essa informação equivocada seja passada adiante é mínimo.
Mais graves são argumentos altamente discutíveis apresentados como fatos, sem nenhuma referendação, especialmente no caso da avaliação da historiografia. Afinal, diante de um público francês que não conhece o meio historiográfico universitário no Brasil, essas informações poderiam ser tidas por fiáveis. Três exemplos bastarão. O primeiro: para Silva, após os anos 1990, com a crise do marxismo e a obsolescência do célebre debate Dobb/Sweezy a respeito da transição do feudalismo ao capitalismo, teria caído em desuso “a própria idéia de um corte entre o mundo medieval e o mundo moderno” (p. 197), argumento não referendado e que não corresponde nem às interpretações propostas por muitos medievalistas brasileiros, nem ao ambiente historiográfico em que transitam os modernistas, que muito freqüentemente se alinham aos esquemas interpretativos de um Immanuel Wallerstein. O segundo: para Silva, “os trabalhos escritos a partir dos anos 1970 colocaram em dúvida o caráter por assim dizer ‘feudal’ da colonização portuguesa do Brasil” (p. 198), novamente sem citação em nota de qualquer um desses “trabalhos”, assim tão genericamente e peremptoriamente caracterizados.32 Terceiro exemplo: para Silva, a contribuição de Michel Rouche na obra coletiva História da vida privada aparece como referência importante para caracterizar a percepção da alta Idade Média no Brasil, por haver 135 exemplares dos volumes da coleção na USP; ora, o que garante que esse artigo especificamente foi lido e discutido? Seriam os programas de cursos e as bibliografias dos trabalhos acadêmicos que Silva deveria ter consultado.
A questão da historiografia levanta um problema muito mais grave, mas, antes de chegar a esse ponto, e entrando assim no cerne do argumento do artigo, são as construções sofismáticas (e incoerentes) que chamam atenção. Silva contrapõe a um discurso identitário sobre a (alta) Idade Média, que critica, uma preocupação com definir as especificidades da alta Idade Média. E, com vistas a sustentar a proposição, discorre sobre dois campos das práticas no reino franco dos séculos V a IX. Fora uma breve menção, à p. 213, a respeito da concomitância entre abolição dos ordálios e suposta aparição da penitência privada na segunda metade do século XII, não há qualquer demonstração de que se trata de contraste relativamente ao que se antecedeu e ao que se sucedeu imediatamente. Ora, como definir uma especificidade se não for pelo contraste? Mais além: se, na breve discussão que faz dos trabalhos de Baschet e Morsel, o período específico da alta Idade Média é definido como se estendendo dos séculos V a XI (p. 203), como entender, por um lado, que o argumento se dedique a falar de práticas entre os séculos V e IX, e, por outro, que a única menção contrastiva destaque a ruptura no fim do século XII (em outro ponto a alta Idade Média sendo caracterizada inclusive como período que vai do século V ao XII, p. 214)? Ora, essa flutuação notável para o que seria a “alta Idade Média” de Silva (séculos V-IX, V-XI ou V-XII?) levanta sérias dúvidas com relação à tangibilidade da tão prezada especificidade.
Do mesmo modo, como já era possível se depreender da súmula do conteúdo do texto, Silva não consegue se decidir entre a pertinência ou não das categorias “público” e “privado” para falar da alta Idade Média. É assim que, se um de seus cavalos de batalha é dizer que “é necessário romper com essa dicotomia, insistindo nas especificidades da história do Ocidente ao longo da alta Idade Média” (p. 212), ou então que “a especificidade da alta Idade Média repousa na dificuldade de distinguir o ‘público’ do que se chama erroneamente de a ‘esfera privada’” (p. 206), como compreender que Silva proponha que “essa hipertrofia do espaço público... caracteriza a alta Idade Média no Ocidente” (p. 211)? Ou que “temos a impressão de que tudo o que é ‘privado’ tomou de assalto o espaço público na alta Idade Média, quando é na verdade o espaço público que invadiu os domínios reservados do segredo e do oculto” (p. 210-211)? O argumento parece meramente invertido, sem que haja a ruptura conceitual da dicotomia propugnada em outros momentos do texto. Mais além, como compreender que ele fale, em meio à análise das práticas que servem de exemplificação de seu argumento de não pertinência da dicotomia conceitual público/privado – e, portanto, empregando-as como categorias operatórias – em “publicidade” (p. 207) “publicamente” (p. 207, p. 209), “foro interno” (p. 207), “autoridade pública” (p. 207), “caráter público” (p. 208), “publicização” (p. 209), “espaço público” (p. 210), “não público” (p. 210), “relações privadas” (p. 210), “apropriação pública” (p. 210), etc., com um uso francamente errático de aspas para, supõe-se, nuançar esse uso de que não consegue prescindir? Parece, assim, que Silva não consegue se livrar das categorias dicotômicas que, ele diz, prejudicam a compreensão da especificidade da alta Idade Média.
Voltemos à questão historiográfica, que importa por caracterizar recorrência do que já verificamos no texto de Almeida, acima discutido. Para Silva, “o debate a respeito da Idade Média no Brasil foi, ao menos até os anos 1970, um problema dos especialistas de história colonial” (p. 198), sobre o quê invoca Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães, nenhum dos quais era, contudo, um especialista de história colonial, ambos ensaístas e polemistas controversos, generalistas sem carreira na universidade. Não se referindo a quaisquer outros nomes, Silva não parece ter uma idéia muito clara da complexa tradição da historiografia colonial no Brasil. Para além disso, conforme já vimos, negar aos medievalistas brasileiros das décadas de 1940 a 1970, e especialmente a Pedro Moacyr Campos, um papel de relevo na disciplina é um equívoco. Mais que isso, esses historiadores estiveram sim envolvidos no debate sobre a existência de uma Idade Média brasileira, que preferiam não aceitar, entrando em polêmica com certas correntes marxistas.33
Igualmente grave e igualmente consoante com a postura de Almeida, Silva centra seu fogo no mexicano Luis Weckmann para discutir a tese das “origens medievais do Brasil”, sem qualquer referência à produção brasileira pós-1970, que desqualifica como “alguns esboços demasiado gerais” (p. 197-198), sem novamente qualquer indicação em nota que dê uma idéia do referente concreto a que Silva alude. Ora, quem destacadamente se ocupou desse problema, inclusive em reuniões científicas em que Silva esteve presente, com diversos textos publicados sobre o tema, foi Hilário Franco Júnior.34 Pela recorrência que assume com Almeida e Silva, poder-se-ia falar numa política sistemática de apagamento do trabalho desse medievalista. Evidentemente, somos levados a crer que Almeida e Silva não se alinham com as posturas de Franco Júnior, o que, dentro dos limites impostos pelo decoro intelectual, seria perfeitamente legítimo, desde que argumentado. Porém, relegar a discordância para o foro “privado” e criar uma narrativa inverídica no foro “público” não corresponde aos padrões mínimos esperados para o debate acadêmico.
Em conclusão, oferecemos a idéia de que a legitimidade da história medieval nos parece residir em um impensado dessa coletânea: ela se encontra no corpo de trabalho realizado pela disciplina nas últimas centúrias, ao menos desde o desenvolvimento da erudição eclesiástica moderna e do trabalho de edição de fontes para o estudo da história medieval. Essa legitimidade endógena e retrospectiva não é estranha à idéia de que a história medieval se legitima pelos próprios resultados (algo que afirmam ou sugerem, de forma distinta, Morsel, Baschet e Chastang), mas esses resultados não estão por se obter: eles estão sendo continuamente produzidos – e, claro, revisados e transformados – desde aquele momento. Tal legitimidade tampouco é estranha à idéia de que diversos dos conceitos centrais da ciência social são dependentes da tradição da historiografia sobre a Idade Média (como lembra Magnani), mas ela é mais abrangente, pois não se trata apenas de uma chave para a arqueologia dos conceitos, consistindo antes em um vasto patrimônio que abriga as realizações de dezenas de gerações de eruditos.
A leitura cruzada dos textos da coletânea levanta mais problemas do que as reflexões particulares poderiam sugerir, muitas das dificuldades analíticas surgindo não como perguntas formuladas pelos autores, mas como percepção da existência de pressupostos muito distintos, que apenas vêm à consciência quando explicitados de forma contrastiva. Encara-se a história medieval como disciplina humanística ou como ciência social? Se a primeira opção reconhecerá sem dificuldades que a humanidade não pode prescindir dos clássicos que moldaram o pensamento de gerações e continuam a ser relevantes hoje – seria sacrílego operar uma seleção, por mais extensa que fosse, em uma tradição tão variegada que abrange de Chateaubriand a Marx, de Huizinga a Bloch, de Mabillon a Kantorowicz –, a segunda saberá prezar o fato de que a produção realizada pelos medievalistas nos últimos dois ou três séculos acumulou um arsenal de conhecimentos disponíveis e processados que a esmagadora maioria das outras sociedades estudadas pelas ciências sociais não pode sequer sonhar com jamais possuir. Com esse arsenal, é a própria possibilidade da ciência social em si, facultada pelo controle coletivo de dados, hipóteses e resultados, que está dada.
Se a perspectiva humanista se preocupa menos com a idéia de um consenso em torno do objeto, a das ciências sociais engaja disputas a respeito do que é o social: estudo de relações concretas e particulares ou estudo de um sistema social centrado nos modos de dominação? qual o papel das representações no social? Os modelos são sedutores, mas em pouquíssimos outros campos da ciência social o debate sobre essas questões amplas pode ser ao mesmo tempo genérico, calcado na herança de brilhantes analistas da sociedade medieval, e específico, devido ao acúmulo de dados alcançado e em expansão contínua. O que se extinguiria com a história da Idade Média, caso em algum momento se julgasse por bem pôr um fim a essa fileira de estudos, é talvez o grande núcleo duro das ciências sociais, com o que esse núcleo trouxe de inteligibilidade ao mundo social. Com ele também iria embora um arsenal de erudição – que, sem quem possa manuseá-lo, não poderia mais ser considerado presente – que tem o potencial de alimentar muitas e muitas gerações de pesquisadores daqui para a frente e, assim, de alimentar a inteligibilidade sustentada do mundo social.
Nesse sentido, uma das grandes lições que a coletânea traz – às vezes porque ela o faz, às vezes porque ela deixa de fazê-lo – é a da necessidade de abordar a tradição historiográfica com o respeito que ela merece. Respeito que não poderá jamais ser sinônimo de subserviência, mas antes de reconhecimento e responsabilidade intelectual pela própria condição de existência e de legitimidade da disciplina.
COMO CITAR ESTE ARTIGO
Referência electrónica:
AUBERT, Eduardo Henrik – “Apontamentos sobre a legitimidade atual da história medieval tecidos no entorno de uma obra recente”. Medievalista [Em linha]. Nº14, (Julho - Dezembro 2013). [Consultado dd.mm.aaaa]. Disponível em http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA14/aubert1411.html. [ Links ]
Notas
1 MÉHU, Didier; ALMEIDA, Néri de Barros; SILVA, Marcelo Cândido da - Pourquoi étudier le Moyen Âge? Les médiévistes face aux usages sociaux du passé. Actes du colloque tenu à l’université de São Paulo du 7 au 9 mai 2008. Paris: Publications de la Sorbonne, 2012. As referências a essa obra se farão no corpo do texto, com o número da página indicado entre parênteses.
2 Mais dados sobre o LEME podem ser colhidos na homepage do laboratório: http://leme.vitis.uspnet.usp.br/
3 MORSEL, Joseph - L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat... Réflexions sur les finalités de l’Histoire du Moyen Âge destinées à une société dans laquelle même les étudiants d’Histoire s’interrogent. Paris: LAMOP, 2007, publicação eletrônica no endereço http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/SportdecomatMac/pdf.
4 DEMADE, Julien - Essai sur les modes de ponction féodaux. Du servitium aux transactions monétaires sur les denrées (no prelo).
5 DEMADE, Julien - Par delà l’(in)utilité. Du sens (de l’étude de l’histoire [médiévale]) (no prelo).
6 Falando em dissonância, não se pode deixar de observar de passagem o estranhamento provocado quando o autor – legitimamente defendendo que, na perspectiva da “longa Idade Média” que sustenta, as Américas são tão herdeiras da Idade Média quanto a Europa – proponha que o estudo da música popular do Nordeste brasileiro seja “condição de uma boa compreensão da Idade Média européia” (p. 57), porque se trataria de um “conservatório” de práticas desaparecidas na Europa, invocando para isso uma gravação efetuada pelo grupo de Música Antiga da UFF. Esse tipo de argumento é extremamente delicado, embora freqüente, na medida em que ele postula uma continuidade que não pode ser comprovada pela falta de documentação contínua que permita compreender a dinâmica de rupturas na esfera musical. Preencher as lacunas de nosso conhecimento da música medieval com outras músicas de tradições orais (e os grupos de música procuraram, argumentando sempre em favor da continuidade, da conservação, espaços tão diferentes quanto a recitação do Corão, a música grega ortodoxa ou as polifonias orais da Córsega, além, claro, do Nordeste brasileiro) é um belo exercício de imaginação, que pode favorecer o “livre jogo das faculdades” (p. 60), mas que é não é passível de demonstração científica.
7 MORSEL, Joseph - L’histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat, op. cit.
8 Diz o autor: “trata-se com efeito da única sociedade ‘completa’ de que nós dispomos (nós conhecemos seu ‘começo’ e seu ‘fim’ – se é que tais metáforas têm um sentido para um sistema social)” (p. 67).
9 Sem as edições da documentação feitas por essas gerações sucessivas, as bases de dados modernas informatizadas seriam inconcebíveis, sobre cujo impacto, cf. a contribuição de Pierre Chastang, comentada mais adiante.
10 GUERREAU, Alain - L’avenir d’un passé lointain: quelle histoire du Moyen Âge au XXIe siècle? Paris: Seuil, 2001.
11 MORSEL, Joseph - L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat, op. cit.
12 FRIED, Johannes - Die Aktualität des Mittelalters. Gegen die Überheblichkeit unserer Wissensgesellschaft. Stuttgart: Thorbecke, 2002.
13 BULL, Marcus G. - Thinking Medieval. An Introduction to the Study of the Middle Ages. Houndmills, Basingstoke, Hampshire/Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2005.
14 Por exemplo, FREEDMAN, Paul – “The medieval Other: The Middle Ages as Other”. In JONES, T; SPRUNGER, D. (org.) - Marvels, Monsters, and Miracles. Studies in the Medieval and Early Modern Imagination. Kalamazoo: Medieval Institute Publications, 2002, pp. 1-24.
15 Tradução de “moyenageux” que nos parece preferível ao “idademedioso” proposto por Joseph Morsel, p. 62, nota 1.
16 O artigo é CAPELATO, Maria Helena Rolim; GLEZER, Raquel; FERLINI, Vera Lúcia Amaral – “Escola uspiana de história. São Paulo”. Estudos avançados, 8, 22, (1994), pp. 349-358.
17 ALMEIDA, Néri de Barros - A cristianização dos mortos: a mensagem evangelizadora de Jacopo de Varazze. São Paulo: FFLCH-USP, 1998 (Tese de Doutorado).
18 SILVA, Marcelo Cândido da - Les études en histoire médiévale au Brésil: bilan et perspectives, 2006, http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/Brazil.html Para uma crítica desse texto, cf. os posts no blog de Jônatas Batista Neto, professor aposentado de História Medieval da USP, no endereço http://jonatasneto.wordpress.com/, especialmente os de número 238 e 239.
19 Sobre quem, cf. V.V.A.A. - In memoriam. Eurípides Simões de Paula. São Paulo: FFLCH-USP, 1983.
20 Não podemos nos furtar a remeter o leitor a ASFORA, Wanessa Colares; AUBERT, Eduardo Henrik; CASTANHO, Gabriel de Carvalho Godoy – “L’histoire médiévale au Brésil. Structure d’un champ disciplinaire”. In MAGNANI, Eliana (org.) - Le Moyen Âge vu d’ailleurs: voix croisées d’Amérique latine et d’Europe. Dijon: Éditions universitaires de Dijon, 2010, pp. 53-113. O texto é citado em nota no “Avant-propos” do livro (p. 5), assinado por Méhu, Almeida e Silva, mas não no texto de Almeida. A leitura desse texto, que propõe uma metodologia para o estudo desse campo disciplinar e identifica estritamente as fontes de todas as informações (e as modalidades de recolha das mesmas), teria evitado à autora mais de um equívoco.
21 Cf. FRANCO JÚNIOR, Hilário – “Meu, teu, nosso: reflexões sobre o conceito de cultura intermediária”. In FRANCO JÚNIOR, Hilário - A Eva Barbada: ensaios de mitologia medieval. São Paulo: Edusp, 1996, pp. 31-44.
22 A única referência a autores se encontra em uma nota que fala não dos medievalistas brasileiros associados a essa correntes, mas do que seriam os medievalistas estrangeiros privilegiados para tradução pelo mercado editorial brasileiro. Aqui, mais uma ressalva (cf. p. 138, n. 14): Aaron Gourevitch não teve nenhuma de suas obras de História Medieval traduzidas no Brasil, mas tão somente o livro sobre a Escola dos Annales, e isso apenas no século XXI: GURIÊVITCH, Aaron - A síntese histórica e a escola dos Anais. São Paulo: Perspectiva, 2004.
23 CERQUIGLINI, Bernard – Éloge de la variante: histoire critique de la philologie. Paris: Seuil, 1989.
24 LETT, Didier - Un procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale: Nicolas de Tolentino, 1325. Paris: Presses Universitaires de France, 2008.
25 Cf. GIUSTINIANI, Vito Giustiniani – “Homo, Humanus, and the Meanings of Humanism”. Journal of the History of Ideas, 46, 2, (1985), pp. 167-195.
26 WECKMANN, Luis - La herencia medieval del Brasil. México: FCE, 1993.
27 MORSEL, Joseph - L’aristocratie médiévale, Ve-XVe siècle. Paris: Armand Colin, 2004; BASCHET, Jérôme - La civilisation féodale. De l’an mil à la colonisation de l’Amérique. Paris: Albin Michel, 2004.
28 ROUCHE, Michel – “La vie privée à la conquête de l’État et de la société”. In ARIÈS, Philippe; DUBY,Georges (org.) - Histoire de la vie privée, t. 1, De l’Empire romain à l’an mil [1985]. Paris: Seuil, 1999, pp. 423-454.
29 DE YONG, Mayke – “What was public about public penance? Paenitentia publica and justice in the Carolingian world”. In La Giustizia nell’Alto Medioevo (secoli IX-XI). XLIV Settimane di Studio sel Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo: Spoleto: CISAM, 1997, pp. 863-902.
30 A publicação brasileira pode ser acessada online: SILVA, Marcelo Cândido da – “‘Público’ e ‘privado’ nos textos jurídicos francos”. Varia História, 26, 43, (2010), pp. 29-48. Cf. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-87752010000100003&script=sci_arttext
31 Ver os posts no blog de Jônatas Batista Neto, no endereço http://jonatasneto.wordpress.com/, especialmente os de número 238, 239, 240 e 241.
32 Para uma discussão consistente do problema, cf. o artigo de BASTOS, Mário Jorge da Motta; RUST, Leandro Duarte – “Translatio Studii. A História Medieval no Brasil”. Signum, 10, (2008), pp. 163-188. O texto não é citado por Silva.
33 Questão discutida no já referido texto ASFORA, Wanessa Colares; AUBERT, Eduardo Henrik; CASTANHO, Gabriel de Carvalho Godoy – “L’histoire médiévale au Brésil. Structure d’un champ disciplinaire”, op. cit., ao qual remetemos para referências específicas.
34 Cf., entre outros: Raízes medievais do Brasil (Páginas de História, fascículo II, 1). Belém: Laboratório de História da UFPA, 1998; “Racines médiévales du Brésil”. Bulletin du Centre d'études médiévales d'Auxerre, hors série, 2, (2008), publicação eletrônica no endereço seguinte http://cem.revues.org/index4082.html (Silva estava presente quando da apresentação desse texto, em São Paulo, na segunda edição dos encontros “Le Moyen Âge vu d’ailleurs”, em 2003); “Raízes medievais do Brasil”. Revista USP, 78, (2008), pp. 80-104 (também disponível eletronicamente no seguinte endereço: http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S0103-99892008000300009&script=sci_arttext).